Patrick Iber e Mike Konczal publicaram um ensaio na revista Dissent em que usam o fenômeno Bernie Sanders como uma oportunidade para explicar as teorias de Karl Polanyi e o que elas significam para o futuro da política progressista.
Polanyi foi um imigrante húngaro em Viena e mais tarde na Inglaterra e nos Estados Unidos, além de um veterano do período entre-guerras que nos deu a Grande Depressão e a ascensão do Fascismo.
Seu livro mais famoso, “A Grande Transformação”, foi escrito nos anos 30 e 40, e tentava diagnosticar as falhas do capitalismo de livre-mercado de seu tempo, que em sua visão haviam dado origem à reação e à guerra que ele teve de atravessar.
Seu ponto central, e aquele que tem sido mais influente sobre os progressistas contemporâneos, é sobre como nunca existiu algo como um mercado livre sem restrições ou um mercado “natural”.
Ao invés disso, todas as formações sociais realmente existentes envolvem laços complexos entre as pessoas, baseados em uma variedade de normas e tradições. Como Iber e Konczal colocam, “a Economia está ‘embutida’ na Sociedade – é parte das relações sociais – não é independente delas.”
Por essa razão, o esforço para estabelecer mercados desregulados e sem restrições está condenado: “uma sociedade de livre-mercado pura é um projeto utópico e impossível de se realizar, por que as pessoas resistirão ao processo de serem transformadas em mercadorias.”
Essa é uma sacada importante, e até aqui não há muito com que eu não possa concordar. O problema começa quando alguém tenta derivar uma estratégica política completa a partir dessa análise. É aí que meu caminho se separa da análise polanyiana que Iber e Konczal oferecem.
Eles sugerem que a visão de “Socialismo” oferecida por Polanyi, e também por Bernie Sanders, em última análise apenas envolve submeter o capitalismo a alguns limites democráticos e humanos. Eles citam a passagem em que Polanyi define socialismo como “a tendência inerente em uma civilização industrial de transcender o mercado auto-regulatório ao subordiná-lo conscientemente a uma sociedade democrática.”
Polanyi não parece pensar que os mercados ou que as relações de propriedade capitalistas poderiam ser suplantadas (apesar de alguns trechos no final de “A Grande Transformação” introduzirem alguma ambiguidade nesse ponto). O capitalismo apenas será humanizado e controlado. Iber e Konczal atribuem algo como essa ideia a Bernie Sanders: “as pessoas usam a democracia para mudar as regras que governam nossa economia política nacional.”
Há uma longa tradição, especialmente associada com o leninismo, que rejeita esse programa como mero “reformismo”. De acordo com essa visão, a perspectiva polanyiana seria inadequada porque abraça reformas que melhoram o capitalismo.
Isso é tomado como sendo uma distração da necessidade de se construir uma força revolucionária que possa tomar o poder estatal, derrubar a classe dominante e reconstruir as relações de propriedade. Essa é uma perspectiva que Iber e Konczal rapidamente recusam: uma “ideia tradicionalmente marxista de ter o Estado tomando os meios de produção” que, eles dizem, “foi abandonada mesmo pela maioria dos que se identificam como socialistas.”
Me considero um socialista e um marxista, apesar de ser questionável se sou “tradicional”. Minha objeção à análise polanyiana é um tanto diferente, porém, daquela que Iber e Konczal exemplificam.
Sou bastante “reformista” no sentido de que minha política diária envolve trabalhar por coisas como um sistema de saúde universal, por sindicatos mais fortes ou por um governo local menos corrupto. (Isto, deveria ser notado, também era verdade sobre muitos militantes comunistas históricos, mesmo se eles antecipavam a tomada do poder como seu horizonte). Onde meu caminho se separa da esquerda polanyiana – e de certa forma, também da Esquerda Marxista Tradicional – é sobre onde acredito que tais lutas vão dar, em última instância.
Algum tempo atrás, escrevi um pouco sobre como as ideias polanyianas influenciam apoiadores e defensores do Estado de Bem-Estar Social. Em resposta ao ataque do sociólogo Daniel Zamora à teoria de Michel Foucault, observei que para muitos críticos de esquerda ao capitalismo neoliberal, o projeto da esquerda é concebido em termos polanyianos, e portanto está limitado à luta para “amortecer para os trabalhadores os efeitos dos caprichos do mercado, embora deixando no lugar as instituições básicas da propriedade privada e do trabalho assalariado.”
Deste modo, não poderia haver nada além de “um Estado de Bem-Estar Social que proteja a classe trabalhadora do funcionamento de um mercado irrestrito.”
Há duas objeções distintas que eu gostaria de levantar contra esse projeto. Uma é basicamente normativa: um mundo de trabalho assalariado mais ou menos humanizado não é um mundo em que eu queira viver, mesmo se ele fosse melhor do que esse em que vivemos agora.
Isto está enraizado na tradição socialista do “anti-trabalho”, que insiste que o objetivo final das políticas socialistas não é tornar o trabalho assalariado mais agradável, mas abolí-lo por completo. Como já escrevi extensivamente sobre isso alhures, não repetirei aqueles argumentos aqui.
A segunda objeção tem a ver com a viabilidade no longo prazo do capitalismo polanyiano de Bem-Estar Social, como um equilíbrio dentro do capitalismo. A distinção fundamental que eu faria, entre marxismo e social-democracia polanyiana, não tem a ver com debates sobre “reforma” ou “revolução”.
Em outras palavras, eu aceito a proposição de que no curto prazo, o projeto socialista se desenrole através de lutas incrementais para conquistar ganhos materiais para os trabalhadores, dentro do contexto do capitalismo.
Mas o ponto final do socialismo de polanyi na verdade é o regime que o teórico do Estado de Bem-Estar Social Gøsta Esping-Andersen chamava de “capitalismo de Bem-Estar Social”.
Ou seja, ainda se trata de uma sociedade em que os meios de produção são controlados privadamente por uma pequena elite, e a maioria das pessoas precisam vender o seu trabalho para sobreviver. Ela difere do capitalismo irrestrito graças à presença de coisas como sindicatos, regulações, programas e redes de segurança social, que parcialmente – mas nunca totalmente – desmercadificam o trabalho.
É nesse ponto que descobrimos a divisão entre a perspectiva polanyiana e a alternativa marxista que estou propondo. Tudo gira em torno da questão sobre se esse regime seria viável.
O que é viabilidade? Uma definição concisa vem do sociólogo Erik Olin Wright – que parte de uma base marxista, mas cujo trabalho tem fortes sobretons polanyianos.
Ele tem trabalhado extensivamente na definição de “Utopias Reais”, que poderiam ser oferecidas como alternativas ao sistema atual. Ele argumentava que uma tal utopia precisa satisfazer três critérios: ‘desejabilidade’, ‘exequibilidade’ e ‘viabilidade’. Os dois primeiros são o que parecem ser: “É para lá que queremos ir?”, e “podemos chegar lá?”.
Como notado acima, penso que a visão polanyiana deixa um pouco a desejar em termos de desejabilidade, mas ainda seria um passo adiante.
Quanto à questão de exequibilidade, não tenho nada a discutir: Eu apoio lutas reformistas pelo Estado de Bem-Estar Social por que o vejo como algo alcançável, comparadas às estratégias alternativas de se construir um Partido Comunista Insurrecional, ou de escrever polêmicas sectárias e esperar que o capitalismo colapse por si mesmo.
A viabilidade é onde todos os problemas surgem. Wright define a questão da viabilidade como segue: “Se pudéssemos criar esta alternativa, seríamos capazes de permanecer nela ou ela teria tamanhas consequências não-intencionais e dinâmicas auto-destrutivas que ela não seria sustentável?”
Lembrando a definição do socialismo polanyiano como a situação em que “as pessoas usam a democracia para mudar as regras que governam nossa política econômica nacional.”
Esse seria um equilíbrio estável, aceitável para tanto para os capitalistas quanto para os trabalhadores? Ou seria uma situação inerentemente instável, que deve se romper na direção da expropriação da classe capitalista, ou da restauração do poder de dominação de classe?
Diferente dos polanyianos, penso que o Estado de Bem-Estar Social, nos termos de Wright, não é viável. Diferente de Wright, no entanto, não acho que isso o invalida como um objetivo. Ao invés disso, acredito que a política socialista é inevitavelmente uma tarefa de “construir a crise.”
A grande tragédia do Socialismo no Pós-Guerra foi a divisão perversa do trabalho organizado à qual ele deu origem, entre revolucionários que se recusavam a se engajar em políticas reformistas, e reformistas que eram incapazes ou que não desejavam lidar com a crise que suas vitórias inevitavelmente produziram.
Então, o que faz com que a social-democracia não seja viável como um sistema estável? Para isso, precisamos nos voltar para o economista polonês Michal Kalecki e seu famoso ensaio de 1943, “Aspectos Políticos do Pleno-Emprego”.
A principal sacada daquele ensaio é que as lutas econômicas entre os trabalhadores e os patrões, em última análise, não são sobre o tamanho de salários, ou a estabilidade dos empregos, ou a generosidade dos benefícios. Elas são sobre poder.
É possível construir argumentos mostrando que colocar trabalhadores desempregados de volta no trabalho seria bom para os capitalistas também, no sentido de que levaria a um crescimento mais rápido e a maiores lucros.
Mas como Chris Maisano explica em seus comentários sobre Kalecki, “as maiores barreiras à manutenção do pleno-emprego são primariamente políticas em sua natureza, não econômicas.”
Isto por que em uma situação de baixo desemprego, os trabalhadores têm menos medo daquilo que Kalecki chamava de “poder da demissão” [17]. Como eles passam a ter menos medo dos chefes, começam a demandar mais e mais dos capitalistas.
Os sindicatos e os partidos social-democratas se fortalecem; greves autônomas proliferam, mesmo sem autorização de sindicatos. No final, esta dinâmica coloca em questão não apenas os lucros, mas as relações de propriedade fundamentais do capitalismo em si.
O capitalismo de Bem-Estar Social assim atinge aquilo que poderíamos chamar de o “ponto de Kalecki”, onde sua viabilidade terá sido fatalmente minada.
Nessa situação, os empregadores passam a pensar em tomar ações drásticas para colocar os trabalhadores de volta na linha, mesmo que às custas da lucratividade no curto-prazo.
Isso toma muitas formas, incluindo ataques liderados pelo Estado contra os sindicatos e a recusa dos capitalistas em investir, uma “greve do Capital” em que o dinheiro é levado para o exterior ou simplesmente deixado nos bancos, como uma forma de quebrar o poder da classe trabalhadora.
David Harvey, em seu “Neoliberalismo: História e Implicações”, essencialmente retrata a virada de Direita dos anos 80 como uma resolução reacionária desta crise: uma mudança a partir do ponto de Kalecki que trouxe a restauração do poder da classe capitalista ao invés de um salto na direção do socialismo.
Jonah Birch fornece um estudo de caso muito útil sobre o governo de Mitterrand na França durante este período, que pressionou os limites do acordo social-democrático e finalmente foi forçado a recuar pelo poder do Capital.
A falha do Plano Rehn-Meidner, que era essencialmente um esquema gradualista para socializar os meios de produção na Suécia, fornece um exemplo similar.
Até aqui, tenho argumentado que o acordo de classes social-democrático é inerentemente inviável, e que tende na direção de conflito e crises. No entanto, outra forma de olhar para isso é que o capitalismo de Bem-Estar Social pode ser tornado viável, mas apenas de uma maneira que subverta a sua promessa socialista.
Isso porque “o poder da demissão” pode ser reconfigurado em outros tipos de poder disciplinar, dependendo da natureza do regime capitalista de bem-estar social especifico de que estivermos falando.
Recentemente, descobri (através de Mariame Kaba), o trabalho de Elizabeth Hinton, focado na expansão do Estado de Bem-Estar Social durante a “Grande Sociedade” de Lyndon Johnson nos anos 60, e suas conexões com a construção do Estado Carcerário – o nascimento do encarceramento em massa e da militarização do policiamento nos EUA.
Ela mostra que embora a “Grande Sociedade” estivesse expandindo o acesso a coisas como o suporte de renda e a cobertura de saúde, uma simultânea “Guerra ao Crime” estava submetendo os pobres, e especialmente os negros pobres, a uma maior vigilância e repressão estatal.
A sua análise indica que isso não foi simplesmente uma justaposição, mas parte de uma reconstrução coesa da relação entre o Estado e a classe trabalhadora.
Isso é facilmente compreensível em termos da natureza contraditória do Estado de Bem-Estar Social e o problema do ponto de Kalecki. Sem o Estado de Bem-Estar Social, os trabalhadores são disciplinados pelo poder da demissão – ou, em situações onde os trabalhadores estão suficientemente organizados e coesos para resistir aos chefes de qualquer maneira, por milícias privadas.
Na era do Estado de Bem-Estar Social, no entanto, a desmercadificação parcial do trabalho cria um grande perigo para o Capital, por que aumenta a autonomia dos trabalhadores, estejam eles empregados ou não, para fazer mais exigências para o Capital e o Estado.
Foi apenas esse reconhecimento que levou líderes de organizações como Frances Fox Piven e Richard Cloward a mobilizar beneficiários de políticas de Bem-Estar Social no final dos anos 60.
Violência policial, guerras às drogas, encarceramento em massa, exigências pesadas sobre beneficiários de programas: estas são todas formas de disciplinar o trabalhador na era do Estado de Bem-Estar Social, na ausência do poder de demissão.
Isso também significa que as lutas contra a opressão policial e o encarceramento não são paralelas ou subordinadas à luta de classes e ao movimento pelo socialismo, mas são fundamentais para isso: elas atacam o regime disciplinar que mantém a estabilidade do nosso regime específico de acumulação de Capital.
Para os mais polanyianos e Polianas, seria possível para todos nós nos darmos bem em um mundo onde os trabalhadores possuem vidas confortáveis e os chefes ainda ganham dinheiro. Essa é a visão que parece animar as explicações de Iber e Konczal.
O argumento marxista alternativo é que o Capitalismo é definido pela luta pelo poder entre os trabalhadores e o Capital, e a versão polanyiana de socialismo tenta suprimir essa contradição em favor de uma visão de co-existência harmoniosa.
Onde essa visão falha não é no curto-prazo, mas no longo. Ela deixa a esquerda mal equipada para lidar com a crise inevitável que um programa reformista de sucesso gera, e eu argumentaria que a crença na possibilidade de uma conciliação de classes permanente contribuiu para a derrota da esquerda e a vitória do neoliberalismo.
Então o problema não é que nós não podemos conquistar vitórias reformistas para os trabalhadores – a História nos mostra que podemos. O problema é o que vem depois da vitória, e nós precisamos de uma teoria do socialismo e da social-democracia que prepare nosso movimento para essa fase.
Sobre os autores
está no conselho editorial de Jacobin e é autor do livro "Quatro futuro: a vida após o capitalismo", publicado pela Autonomia Literária em 2020.


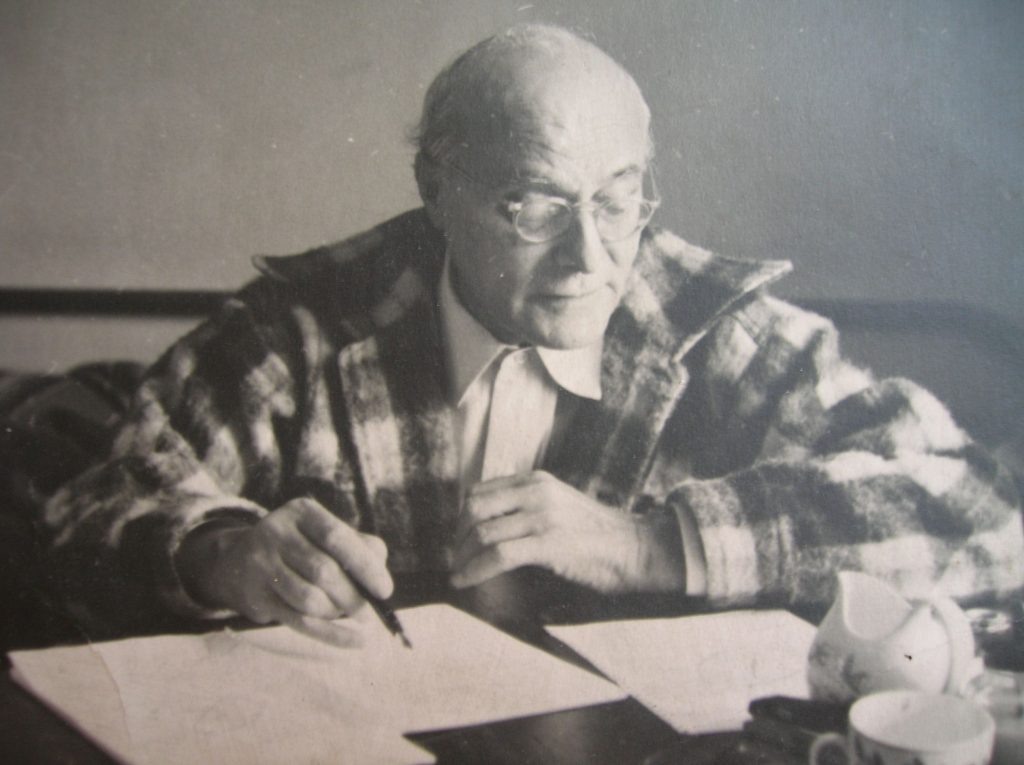
















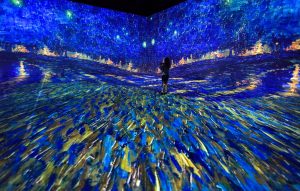












[…] Além disso, os interesses empresariais ainda possuem um trunfo crucial: eles controlam as alavancas da economia. Em certos momentos da história da democracia capitalista – especialmente nas décadas após a Segunda Guerra Mundial, em países como a Suécia – os trabalhadores organizados foram fortes o suficiente e os partidos de esquerda tinham poder o bastante para que aqueles que foram historicamente marginalizados pudessem falar com uma voz política relativamente forte. No entanto, como os líderes empresariais eram capazes de efetivamente levar a economia à paralisação, seus interesses tinham de ser levados em consideração. A “confiança empresarial” venceu a “igualdade política”. […]
[…] pessoas com uma mentalidade social-democrata. No final da década de 1970, esse arranjo se chocou com contradições. Algumas coisas pararam de funcionar: os salários eram mantidos mais baixos nas empresas privadas […]