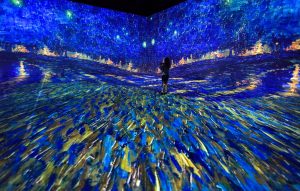Este artigo é uma reprodução da revista Catalyst: A Journal of Theory and Strategy, uma publicação da Fundação Jacobin.
Resenha de Literatura e Revolução: Respostas Britânicas à Comuna de Paris de 1871 por Owen Holland (Rutgers University Press, 2021).
Aqueles momentos históricos em que a ordem civil é suspensa, quando o edifício político treme e recua, são quase sempre instrutivos em retrospectiva. As causas, eventos e ramificações são examinados por jornalistas, e os legisladores reforçam o edifício com legislação específica, muitas vezes tão repressiva quanto possível na cultura política contemporânea. Às vezes, lições são aprendidas, e atitudes sociais, culturais e políticas mudam para abordar, pelo menos em parte, as queixas originais.
No entanto, quando a ameaça ao tecido social oferece um modelo político alternativo coerente, quando a desobediência civil é organizada e militarizada, esses momentos históricos ressoam em uma ordem de magnitude muito maior. E quando a capital de uma nação é ocupada por um governo revolucionário, os efeitos transcendem fronteiras e ressoam internacionalmente.
O volume admirável de Owen Holland, Literatura e Revolução, desembala um exemplo dessa ressonância: a resposta literária britânica à Comuna de Paris de 1871. O choque da Grã-Bretanha diante dos eventos em uma nação vizinha, apenas vinte e um milhas através da água, pode ter sido temperado por precedentes comparáveis, mas a Revolução Francesa ocorreu quase um século antes, e a conflagração revolucionária em toda a Europa em 1848 tinha natureza politicamente variada.
É um lugar-comum histórico que a primeira influenciou o romantismo literário britânico e que a última desencadeou a repressão do Chartismo britânico e a dissolução de sua cultura literária radical da classe trabalhadora. Mas a resposta literária britânica à Comuna não foi estudada de forma abrangente até agora.
No início do livro de Holland, ele cita Chris R. Vanden Bossche, de 1991, em relação ao comentário do comentarista do século XIX sobre A Revolução Francesa: Uma História (1837). No entanto, ele negligencia a referência ao livro de Vanden Bossche de 2014, Reform Acts: Chartism, Social Agency, and the Victorian Novel 1832–1867, que pode ser visto como um tratamento doméstico historicamente mais expansivo dos efeitos da mudança política na ficção mainstream, e que cobre algumas das mesmas bases metodológicas do trabalho de Holland.
Isso não sugere uma ansiedade de influência bloomiana, mas sim nota que a leitura da literatura vitoriana “canônica” ou “mediana” através de eventos políticos específicos é uma tendência bem-vinda da qual podem ser extraídos ricos veios, e o trabalho de Holland faz parte desse movimento.
Assim como Bossche, Holland está interessado no espaço literário entre eventos políticos, nos sentidos cronológico e imaginário, e ele observa a complexidade cultural adicional representada pela identidade de Paris como um centro simultâneo de democracia política, riqueza cultural e opulência arquitetônica.
Quando as percepções desses aspectos de Paris disputam no imaginário britânico após a Comuna, surgem atritos interessantes. Mas também é o caso de que, independentemente das simpatias políticas do escritor, cada resposta literária oferece seu próprio conjunto de parâmetros morais e políticos relacionados às variáveis apresentadas pelo desenvolvimento de personagens e arcos narrativos. Holland oferece algo como uma declaração de tese que sugere o efeito social geral disso:
É uma importante argumentação deste livro que as escolhas feitas por essas figuras revelam algo significativo não apenas sobre as particularidades da resposta cultural à Comuna na Grã-Bretanha, mas também sobre a maneira como essas figuras concebiam a relação da literatura com a perspectiva da revolução social (tanto passada quanto futura) e a maneira como empreendimentos conscientemente literários poderiam, inconscientemente, trabalhar para mobilizar ou conter tais possibilidades.
Holland é impressionantemente consistente em sua própria metodologia específica, possibilitando leituras locais frescas de textos individuais e uma visão convincente que oferece uma interpretação integrada e politicamente reveladora de um fenômeno literário relativamente discreto. As simpatias e ansiedades de escritores individuais são descobertas e desempacotadas, mas isso também é uma oportunidade para um exame mais amplo do imaginário literário da Grã-Bretanha do final do século XIX.
“A Comuna de Paris, ou sua lembrança ficcionalizada, traz à tona uma série de tropos que revelam xenofobia confusa, preconceito de classe e um medo profundo da instabilidade política se espalhando viralmente pelo Canal da Mancha.“
A revolução é figurada como politicamente ingênua e redutiva, suprimindo o individualismo e distorcendo os papéis de gênero naturais. Algumas dessas ficções podem se resumir a desejos românticos ou aventureiros em um nível literário, mas ainda assim contribuem para a compreensão pública de eventos históricos contemporâneos e recentes. Mesmo recriações amplamente simpáticas da Comuna refletiram atitudes culturais em relação a um evento que, como escreve Holland, “perturbou todo um conjunto de investimentos psíquicos, culturais e intelectuais no status quo.”
A abordagem amplamente cronológica deste texto fornece um relato histórico esclarecedor da maneira como a literatura britânica evoluiu em suas respostas à Comuna. Às vezes, essa evolução era caracterizada por uma simpatia inicial (muitas vezes mais romântica do que sinceramente política), que se desenvolvia para desaprovação patronizadora ou até mesmo condenação e repulsa vitriólicas.
E às vezes, como no caso de Mary Elizabeth Braddon e outros, essa mudança ocorria dentro da imaginação de um escritor individual. Após sua simpatia inicial pelos amplos objetivos políticos da Comuna (em linha com sua professa admiração por Émile Zola), Holland identifica no curto romance de Braddon de 1883, Under the Red Flag, fortes elementos de ressentimento nietzschiano em relação aos comunardos, um aspecto-chave do qual é uma tendência à redução ao ponto de desumanização.
No entanto, talvez o tropo narrativo mais ideologicamente significativo no romance de Braddon seja representado pelo tratamento de seu protagonista, Gaston Mortemar, que é estendido “um tipo limitado de simpatia imaginativa [como] um indivíduo de sensibilidade revolucionária vacilante… que, no final das contas, recua diante da perspectiva de uma revolução social completa.” Holland também reconhece esse tipo de justificação moral para a aceitação eventual da ideologia dominante em A Beleaguered City de Margaret Oliphant (1880) e Mrs. Dymond de Anne Thackeray Ritchie (1885). Essa reabilitação ficcionalizada do radicalismo ecoa tratamentos anteriores de protagonistas chartistas, inicialmente simpáticos, em obras de Elizabeth Gaskell, George Eliot e Charles Kingsley.
O ideologema do ressentimento também é identificado como um “nota persistente” em The Princess Casamassima de Henry James (1886), When the Sleeper Wakes de H. G. Wells (1899) e o primeiro romance publicado de George Gissing, Workers in the Dawn (1880), à medida que Holland descobre tratamentos muitas vezes peculiarmente subjetivos da história recente que revelam mais sobre as sensibilidades políticas dos escritores do que os eventos ou atores reais representados, frequentemente indiretamente, na ficção.
As respostas escritas à Comuna permitiram envolvimentos às vezes irresponsáveis com mitos e fantasias a serviço de moralizações autojustificadas. Já em 1871, o crítico francês contemporâneo Théophile Gautier, em seu Tableaux de siège: Paris 1870–1871, fantasias sobre o que teria acontecido se os comunardos tivessem tomado a Vênus de Milo do Louvre. O evento não ocorreu, mas Gautier assegura ao leitor que eles teriam “vendido ou quebrado como sendo uma prova de genialidade humana ofensiva à estupidez niveladora.”
O esteticismo de Gautier foi uma influência importante sobre Algernon Charles Swinburne, que, em uma carta a William Michael Rossetti, também escrita apenas alguns dias após os eventos da Semana Sangrenta, sugeriu que, no caso dos “incendiários (comunardos) do Louvre… uma lei [deveria ser] aprovada em todo o mundo autorizando qualquer cidadão de qualquer nação a tirar-lhes a vida com impunidade e com garantia de agradecimento nacional – para atirar neles onde quer que se encontrassem como cães.”
“É a ameaça ao patrimônio cultural que provoca indignação suficiente para justificar a desumanização dos perpetradores, mesmo quando as atrocidades dos soldados versaillais contra seus próprios concidadãos eram amplamente relatadas.”
Na verdade, os incêndios no Louvre e em Notre Dame foram apagados antes que qualquer dano significativo pudesse ocorrer.
Inevitavelmente, o uso do fogo como um dispositivo fictício para simbolizar a natureza destrutiva e ao acaso da revolução figura extensivamente nos textos estudados aqui. É digno de nota que esses textos frequentemente ignoram evidências disponíveis de que muitos incêndios em Paris durante a supressão da Semana Sangrenta foram causados incidentalmente por artilharia ou foram provocados pelos versaillais, assim como pelos comunardos.
Eles também não reconhecem que a figura das incendiárias, as pétroleuses, retratadas em ilustrações miticamente dramáticas de jornais, era em grande parte apenas isso: um mito.
Particularmente interessante é a maneira como Holland estende o trabalho histórico de Carolyn J. Eichner e Gay Gullickson sobre o papel das mulheres durante a Comuna, talvez exemplificado pela magnífica Louise Michel (1830–1905). Há um elo fascinante feito entre o comentário jornalístico do correspondente parisiense da Englishwoman’s Domestic Magazine em 1871 e a subsequente representação de Braddon de um de seus personagens femininos comunardos em Under the Red Flag.
A correspondente, na tradição das visitas da já falecida Isabella Beeton a Paris para a revista no início dos anos 1860, se horroriza ao imaginar (à la Gautier) que uma das pétroleuses poderia esconder petróleo em uma garrafa de leite, causando assim, como observa Holland, “um fluido associado à maternidade e nutrição [ser] substituído por um líquido de natureza incendiária.” Holland identifica então uma “ansiedade láctea” semelhante em Braddon quando ela faz sua pétroleuse fictícia, Suzon Michel, a proprietária de uma creperia.
Um dos aspectos fascinantes da resposta cultural britânica à Comuna é que, imediatamente após, foi profundamente influenciada pela presença de refugiados comunardos em Londres. Após a brutalidade da Semana Sangrenta e represálias subsequentes, muitos refugiados foram acolhidos na Grã-Bretanha, alguns foram abrigados por famílias britânicas, acabando por se estabelecer no país e retomar com sucesso suas ocupações anteriores. Além da simpatia política qualificada de escritores como John Ruskin e Eliza Lynn Linton (cujo romance de 1872, A Verdadeira História de Joshua Davidson, Cristão e Comunista, é comparado aqui com a reação desajeitada e, por fim, inacabada, de Edward Bulwer Lytton em Os Parisienses [1872–74]), a simpatia humana real pelos sofredores dos eventos em Paris na primavera de 1871 baseou-se no conhecimento difundido da resposta desproporcional e caótica dos Versaillais.
A tensão entre essa realidade e a representação fictícia dos comunardos em alguns textos nunca foi tão palpável como quando os revolucionários eram caracterizados como criaturas animalescas e subterrâneas, evidente em vários textos (incluindo os de Bulwer Lytton) que apresentavam cenas de conspiração pré-revolucionária temperadas com radicalismo internacionalista. Em uma subseção do capítulo sobre os parisienses, intitulada Revolução por Baixo, Holland observa que “a ideia do subterrâneo, tanto como um espaço figurativo de sedição política potencial quanto uma rede física de catacumbas sob a cidade, ocupa um lugar importante nas compreensões populares da história de Paris como uma cidade de revolução.” Ele rastreia ecos da alegorização espacial de Bulwer Lytton sobre a política de classes, que teve origem em seu esforço de ficção científica de 1871, A Raça que Virá, por textos subsequentes, incluindo A Máquina do Tempo (1895) e Quando o Dorminhoco Acorda (1899), de H. G. Wells, e o conto de E. M. Forster A Máquina Para (1909). Aqui, e em outros lugares, Holland demonstra a força de sua tese sobre a relação da literatura com a ameaça da revolução social em um sentido mais amplo. Assim como a literatura politicamente moderada pinta a revolução social de forma redutora, ela simplifica as causas e os processos da revolução em suas narrativas para obscurecer seus objetivos reais.
Dois poemas substanciais examinados no sexto capítulo, A Tragédia Humana de Alfred Austin (que trata apenas em parte da Comuna) e Os Peregrinos da Esperança de William Morris, podem ser vistos como abrangendo o espectro político, pois foram escritos, respectivamente, por um conservador declarado e um socialista declarado. Em uma subseção deste capítulo intitulada A Poética do Martírio no Verso Socialista do Fim do Século, discute-se também a cultura poética de periódicos radicais. No entanto, o campo literário poderia ser ampliado ainda mais. Os exemplos de Holland não abrangem substancialmente o espectro de classes, e respostas poéticas à Comuna certamente foram escritas por escritores da classe trabalhadora em colunas de poesia de jornais locais. Claro, a metodologia de pesquisa para esse tipo de estudo seria totalmente diferente do projeto de Holland, e, portanto, a omissão é totalmente compreensível.
No entanto, um estudo verdadeiramente abrangente da resposta cultural a uma “revolução por baixo” incluiria exemplos de “história por baixo”, e certamente seria instrutivo examinar os pensamentos e sentimentos de poetas amadores e pessoas comuns, cujas respostas ocasionais mais breves não são temperadas por imperativos comerciais. A mobilidade política da forma do poema curto pode revelar uma variedade que contraria as tendências redutoras do dispositivo de enredo fictício.
Onde a literatura narrativa pode buscar o que Holland descreve como “uma representação realista, texturizada e completa da motivação e prática revolucionárias,” a poesia em grande parte escapa da responsabilidade histórica e tenta refletir verdades emocionais. Talvez uma análise mais profunda dos vastos repositórios de poesia de jornais locais britânicos dos anos e meses após a Comuna possa revelar um correlato afetivo à resposta fictícia que foi delineada aqui.
As respostas culturais britânicas às revoltas políticas francesas, de qualquer magnitude, são sempre fascinantes, mesmo que sejam consistentemente deprimentes em seus estereótipos xenófobos. Termos como “paixão” ou mesmo o menos equivoco “calor humano” raramente estão longe da superfície da cobertura midiática, e isso inevitavelmente influencia representações menos efêmeras na literatura. A Inglaterra chocou a Europa com sua decapitação cuidadosamente legislada de Carlos I em 1649, mas desde então, o Reino Unido se definiu como um corpo político mais brando e ponderado do que seu vizinho continental.
A França continua a fornecer aos comentaristas britânicos referências percebidas de extremidade. Mesmo quando o status econômico pós-Brexit do Reino Unido empobrece uma proporção maior de sua população do que qualquer um de seus comparadores internacionais, a cultura britânica se agarra a uma razoabilidade muitas vezes irrazoável em suas respostas políticas. No íntimo do inconsciente coletivo britânico, essas respostas são calibradas em relação à política francesa, e as respostas no livro de Holland são apenas uma parte desse efeito histórico em curso.
Sobre os autores
Simon Rennie
é professor associado de poesia vitoriana na Universidade de Exeter e autor de The Poetry of Ernest Jones: Myth, Song, and the 'Mighty Mind'.