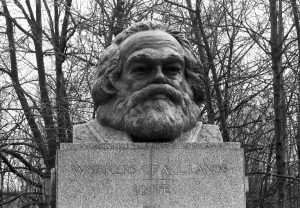Judy Wraight, uma trabalhadora veterana de trinta anos na indústria automobilística que trabalhou na fábrica River Rouge da Ford como membro do Local 600 do United Auto Workers (UAW), estava participando das linhas de piquete no outono de 2023. Em um relato da PBS Newshour em 21 de setembro, ela explicou por quê. “Tudo o que o UAW está pedindo é literalmente o que tínhamos antes”.
Ela estava certa. A maioria do que o sindicato lutou e conquistou havia sido perdida de alguma forma nos últimos quarenta anos. Salários, benefícios de aposentadoria e o direito de fazer greve em fábricas locais foram sacrificados serialmente para manter as três grandes montadoras de automóveis em funcionamento e, eventualmente, repletas de lucros. Isso sem mencionar o declínio acentuado no padrão de vida de jovens trabalhadores, obrigados por contrato a entrar na indústria em um nível “inferior”, com salários e benefícios drasticamente reduzidos e com pouca chance de progredir.
A vitória foi doce, elogiada por todos, inclusive pelo presidente dos Estados Unidos. O crédito pertencia, antes de tudo, ao brilhantismo estratégico da liderança do sindicato, que conduziu uma série contínua de greves “Stand-Up” simultaneamente em todas as três montadoras de carros (uma jogada audaciosa nunca antes tentada pelo sindicato). Isso efetivamente colocou as montadoras uma contra a outra. Mas isso, por sua vez, dependia da resiliência coletiva e da solidariedade dos próprios trabalhadores — pessoas como Judy Wraight.
Menos tangível, mas poderoso à sua maneira, foi uma mudança nas simpatias públicas. Em andamento por algum tempo, as pessoas estavam cada vez mais chocadas com as desigualdades gritantes de renda e riqueza, assim como com a arrogância e a má conduta corporativa. A maioria achava uma boa ideia sindicalizar. Assim, a atmosfera favorecia a greve.
No entanto, o triunfo foi pontuado por um certo pathos. Todo esse esforço — arriscado, auto-sacrificante, heróico — foi gasto apenas para recuperar o que havia sido perdido. E esse predicamento não era enfrentado apenas por Judy Wraight e seus camaradas do UAW, mas é o dilema universal enfrentado pelas pessoas da classe trabalhadora em geral.
Os Estados Unidos há muito se tornaram um país desenvolvido passando por um subdesenvolvimento. A expectativa de vida está caindo. Pessoas dormindo em bancos de parques, em vagões de metrô ou à beira da estrada estão aumentando. Cidades inteiras e pequenas cidades morreram junto com as indústrias que antes lhes davam vida. Estradas, pontes, túneis e redes elétricas — de fato, toda a infraestrutura material da vida pública — está escandalosamente deteriorada. Os serviços públicos estão desgastados, fechados ou leiloados para empresas privadas.
O trabalho infantil, antes considerado extinto, um medievalismo industrial da era das oficinas de trabalho, agora aparece em quase todos os setores da economia, desde lavanderias industriais e fábricas de peças de automóveis até restaurantes de fast-food e canteiros de obras. Empregos de adultos, antes considerados seguros, foram convertidos em várias formas de emprego precário ou temporário. Famílias com dois assalariados agora ganham o que as famílias com um assalariado costumavam ganhar. As pensões que garantem uma renda de aposentadoria foram substituídas por aquelas vinculadas às oscilações volúveis do mercado de ações ou nem foram substituídas. A rede de segurança social, uma exageração metafórica mesmo em seus melhores dias, tornou-se uma vergonha dickensiana.
A América rural é um terreno despojado, abandonado ou palco de superexploração por redes de logística e distribuição. “Mortes por desespero” — por meio de vício em drogas e álcool, suicídio — tornaram-se epidêmicas, tanto em cidades quanto no campo. Direitos antes dados como certos — o direito de votar, o direito de se juntar a um sindicato — agora são contestados ou, para todos os efeitos práticos, negados.
Nas palavras do famoso consultor de gestão Peter Drucker, “Nenhuma classe na história já se elevou mais rapidamente do que o trabalhador braçal. E nenhuma classe na história já caiu mais rapidamente.” Tudo em menos de um século.
Lá nos dias da Rússia czarista, durante o final do século XIX, um movimento revolucionário conhecido como Narodniks (a palavra significava “indo ao povo”) tentou despertar a classe camponesa russa para derrubar o czar. Não pegou. Um ativista daquela época lamentou que “a história vai muito devagar”. Podemos dizer sobre nosso próprio momento que a história retrocedeu. Isso, por sua vez, gerou uma resposta política peculiar tanto à direita, onde seria esperado, quanto à esquerda, onde é surpreendentemente estranho. Chame de “política de restauração”.
De volta para o futuro
“Looking Backward” foi um romance utópico mais vendido publicado em 1888, no auge da Era Dourada da América. Seu autor, Edward Bellamy, descreveu uma sociedade ideal um século no futuro (mais ou menos quando estamos vivendo agora) que olhava para trás naquela Era Dourada passada como um período bárbaro. Movimentos sociais e políticos de hoje, como são, em vez disso, olham para outros períodos, épocas mais antigas, e desejam estar de volta lá novamente, para recuperar o que foi perdido. A vida era melhor naquela época, ou assim presume-se. Em alguns aspectos, isso é transparentemente verdadeiro, como Judy Wraight seria a primeira a testemunhar.
Verdadeiro ou não, essa cultura política de restauração reconhece tacitamente que o futuro, da maneira como essa palavra tem sido costumeiramente usada, está morto. Ou se ele vive, é mantido vivo por aparelhos de suporte à vida.
Na esquerda, ele é mantido mal respirando por encantamentos à revolução que têm muito pouco a ver com os objetivos imediatos e até de longo prazo desses mesmos movimentos. A direita é mais direta. Desses setores, não há dúvida de que estão falando “de volta para o futuro”. Em ambos os casos, a história se torna ideologia, invocada para glorificar um passado e, assim, legitimar uma tentativa de transplantar esse passado para o presente.
A restauração pode sempre ter encontrado um lugar dentro do repertório de possibilidades políticas. Hoje, ela domina a agenda.
O mundo MAGA anseia por voltar — muito, muito atrás. Imagina um tempo não contaminado pelas inversões culturais dos anos 60, um tempo em que o New Deal nunca foi realizado, para alguns, até mesmo um tempo em que a Guerra Civil e a Reconstrução foram caminhos não percorridos. Isso fica claro em suas fobias raciais e étnicas, sua ortodoxia sexual, sua sensibilidade patriarcal e bravata patriótica, sua piedade evangélica e sua aversão à interferência do governo.

Os adeptos do MAGA são ressentidos, e por muitas boas razões; eles são os milhões passados por cima, ignorados, desdenhados da ordem pós-industrial, vivendo nas ruínas. Seu sentido de futuro está azedo na bile de seu ressentimento. Esse futuro no passado é uma previsão tênue, uma reencarnação de um passado que nunca foi exatamente.
Ainda assim, ele agarra. Uma pesquisa recente com republicanos, relatada pelo Washington Post em 6 de julho, descobriu que 70% deles acreditavam que a vida piorou desde a década de 1950. Talvez a ordem familiar de antigamente não fosse exatamente sem atritos, mas em suas mentes, pelo menos, era ordenada, ao contrário da desordem e disfunção entrópica de hoje. Deus emprestava consolo e certeza moral, mesmo que Seu regime pudesse ser exigente, Sua misericórdia inefável justamente fora de alcance. Agora Deus é um refugiado social, exilado do mainstream.
Na época, a América musculosa emprestava sua vitalidade ao homem comum, portador de uma cultura de vitória vicária que oferecia recompensas psíquicas significativas. Qualquer semelhança de vitória hoje em dia desapareceu no abismo da “guerra ao terror”, uma guerra sem fim, com heroicidades infladas, frustrantemente elusiva quando se trata de inimigos e propósitos, enfraquecedora em vez de exaltante.
Antes de sustentar os alicerces da velha ordem, as discriminações raciais e étnicas funcionavam como uma espécie de rede de segurança social para aqueles que viviam apenas acima das submersas classes inferiores. Mas hoje, as classes trabalhadoras cercadas da natividade e raça favorecidas proferem a linguagem da consciência de casta para lembrar um privilégio do passado que sempre sobreviveu em rações curtas.
Portanto, a restauração atinge exatamente a nota certa na direita, não importa quão limitada e fantasiosa seja sua visão do passado. “Restaurar” tem sido um verbo favorito utilizado por políticos de direita há anos. Glenn Beck reuniu manifestantes no National Mall em 2010 para “Restaurar a Honra”; o super PAC de Mitt Romney em 2012 prometeu “Restaurar Nosso Futuro”; o livro de Mike Huckabee para sua campanha de 2012 foi subintitulado Restaurando a Grandeza da América.
Esperamos isso. Conservadores conservam. No entanto, nem sempre foi assim.
Pegue o fascismo. O medo do fascismo assombra a vida política contemporânea. O fascismo é visto como o desfecho da reação de direita. Se o MAGA está indo por esse caminho é uma questão em aberto. Do ponto de vista histórico, não é de forma alguma óbvio que o MAGAismo seja a antessala de um fascismo ao estilo americano. Sua afinidade é inegável. Mas as circunstâncias de seu surgimento diferem fundamentalmente. Enquanto a restauração é a raison d’être do MAGA, a situação com o fascismo era mais ambígua.
Onde surgiu no passado, o fascismo enfrentou e buscou vencer um movimento operário revolucionário de tamanho e peso político consideráveis. (De fato, elementos do movimento fascista surgiram de ou foram posteriormente recrutados nas fileiras de partidos socialistas e comunistas de massa.) Nenhum movimento de esquerda operário de influência substancial existe hoje, pelo menos não nos Estados Unidos.
Reacionários que eram de muitas maneiras, os movimentos fascistas também evocaram uma visão premente de um futuro transformado, até mesmo modernista. Sem dúvida, os espetáculos do fascismo italiano incluíam uma invocação pesada da antiga Roma (a saudação Mussolini, o nome do movimento lembrando os “fasces” ou feixes de varas circundando um machado carregado como símbolo de poder pelos funcionários romanos), sua grandeza imperial e heroísmo marcial. Mas desde o início, o movimento compartilhou uma infatuação com a velocidade, a interrupção, a inovação tecnológica e outras características fundamentais do modernismo celebrado pelos futuristas italianos.
Nesses círculos, a história era apenas uma matéria morta; todos os olhos estavam voltados para a nova era. De fato, Filippo Marinetti, fundador do Futurismo e seu Partido Político Futurista, logo foi absorvido pelo de Mussolini. Aqui é apropriada a noção de George Bataille de que, do ponto de vista psicológico, o fascismo era menos sobre ressurreição do que sobre invocar uma unidade social utópica futurista. Nesta terra do nunca, um “Novo Homem” nasceria — ao contrário do mundo do MAGA, uma mitologia ressuscitada dos dias de Horatio Alger.
Além disso, o fascismo, tanto na Itália quanto na Alemanha, envolveu a estetização da política, o que, pelo menos até agora, não define o núcleo existencial do mundo MAGA. A política como espetáculo dificilmente foi inventada pelo fascismo. E é verdade que o MAGA incorpora alguma dessa invocação dramática sem tração política substantiva. Mas sua imaginação é circunscrita pela execução de um passado histórico bastante específico, ou melhor, uma memória inventada desse passado; as reuniões em massa do MAGA podem ser confundidas com comícios de futebol; não assim os comícios de Nurembergue dos anos 1930.

Na Alemanha, o partido e regime nazista luxuriavam na mitologia teutônica e prometiam restaurar uma sociedade pastoril que nunca existiu, destruída pela ordem moderna, industrial e urbana. No entanto, na vida real, os nazistas construíram as autobahns, não aldeias tribais. O tecno-futurismo fazia parte de uma gestalt nazista que os historiadores chamaram de “modernismo reacionário”. E mesmo a parte “reacionária” dessa fórmula pode colocar facilmente em segundo plano o grau de perspectiva orientada para o futuro dos nazistas.
O Instituto Alemão para a Ciência do Trabalho era uma vasta agência de planejamento que imaginava um “Relatório Beveridge” para um estado de bem-estar pós-guerra. Apesar de sua antipatia pela burocracia, racionalização, taylorismo, etc., a engenharia social do futuro fazia parte do espírito nazista. Apesar de suas proclividades culturais antiurbanas e antiindustriais, o regime construiu cidades e fábricas, planejando-as para incluir recursos socialmente progressistas, como moradia acessível, medicina preventiva, seguridade social abrangente, igualdade salarial para trabalho igual e até a eliminação da distinção hierárquica entre trabalhadores manuais e de colarinho branco.
Por mais que se fale e aja de forma letal inspirada pela obsessão racial nazista com o Volk organicamente “puro”, na prática, o regime demonstrou uma preocupação duradoura com a função e integração racional. O coletivismo, algo profundamente alienígena ao espírito do mundo MAGA, focado como está na restauração do individualismo do passado, na Alemanha, combinou o arcaico e o moderno para incubar o “Novo Homem”.
Enaltecer a violência, inventar histórias míticas de origens, primitivismo racial, imaginar fantasias pastorais do passado eram, é claro, parte do repertório e estética política nazista. No entanto, o ponto aqui é que o fascismo surgiu quando o futuro ainda cativava a imaginação das insurgências políticas e sociais onde quer que surgissem. Por outro lado, o MAGA faz parte de uma sensibilidade política mais ampla que é essencialmente restauradora. É lá que o futuro morre.
A esquerda do presente
Os movimentos sociais recentes da esquerda exibem o mesmo instinto. Black Lives Matter, organizações de povos indígenas e aqueles que buscam justiça e igualdade de gênero e sexual olham para um futuro melhor. No entanto, esse futuro, onde os direitos de todos são respeitados e protegidos, está enraizado no passado. Seria considerado um grande feito se essa longa luta para cumprir uma promessa feita há muito tempo finalmente se concretizasse; ainda mais hoje, quando os direitos considerados assegurados meio século atrás estão em perigo, parte do retrocesso social agora característico da sociedade americana em geral.
A vitória nessa luta seria encorajadora e está longe de ser uma conclusão óbvia. No entanto, não constituiria uma transformação revolucionária da sociedade americana, baseada como é em promessas tradicionais do passado. As instituições econômicas e culturais predominantes, bem como as principais instituições políticas, estão “acordadas”, apoiando precisamente os avanços na igualdade racial, étnica e de gênero que antes ou se opunham ou retardavam. Isso é indicativo. A revolução não está em pauta. Pelo contrário: para as elites liberais, ser “acordado” proporciona um certo brilho à política de seu futuro. Como Georg Lukács observou uma vez, “o poder de luta de uma classe cresce com sua capacidade de cumprir sua própria missão com uma boa consciência”. Segundo um comentarista, o que agora é chamado de “responsabilidade social corporativa” é “fundamental para o utopismo neoliberal”.
Se a esquerda tradicionalmente tratava o capitalismo como inimigo, o capitalismo como estilo de vida não está sendo contestado neste caso. Pode ser um exagero retratar esses movimentos como restauradores – exceto na medida em que certas pessoas não podem mais contar com o direito de voto, ou se tornar cidadãs, ou serem protegidas contra formas anteriormente ilegais de exploração, ou obter tratamento médico ao qual tinham direito. Restaurador ou não, liderados por organizações declaradamente de esquerda ou por aqueles que se contentam em se considerar liberais sociais, são lutas para fazer o presente se conformar a um passado idealizado. Ninguém aqui está contemplando criar o “Novo Homem”. No entanto, tal mentalidade voltada para o futuro costumava definir a esquerda.
“Ninguém aqui está contemplando criar o “Novo Homem”. No entanto, tal mentalidade voltada para o futuro costumava definir a esquerda.“
Presumivelmente, ainda faz para um socialismo americano recém-revivificado. O mundo evocado por Bernie Sanders, com uma grande assistência da Grande Recessão e Occupy Wall Street, é, por definição, anticapitalista. E, novamente, por direito de nascimento, ele olha para um futuro após o capitalismo, que não morrerá por conta própria, mas graças aos esforços revolucionários do movimento socialista. No entanto, na prática, seus olhos estão voltados para o passado. Como Judy Wraight, ele quer recuperar o que foi perdido nos últimos quarenta anos.
Bernie Sanders e a Democratic Socialists of America (DSA) – sem mencionar uma série de outros movimentos, revistas, think tanks liberais e políticos (muitos no Partido Democrata) – passam a maior parte do tempo tramando e agitando para trazer de volta o New Deal. Essa é a sua posição padrão. Sanders, assim como Alexandria Ocasio-Cortez, descrevem seus objetivos como um “New Deal atualizado”. Durante sua primeira campanha presidencial, o senador de Vermont definiu seu “socialismo” como equivalente ao que Franklin D. Roosevelt chamou de “uma declaração de direitos econômicos”. Hoje, o New Deal constitui o horizonte distante de suas esperanças políticas, independentemente de carregarem ou não credenciais socialistas.
No auge do New Deal, a renda e a riqueza eram distribuídas de forma muito mais equitativa do que hoje. O governo regulava os negócios; os direitos dos trabalhadores de se organizar eram respeitados; as pessoas que trabalhavam eram mantidas em alta estima cultural e exerciam uma influência política real; empregar crianças era um crime; a rede de segurança social foi inventada; empregos e vida após o trabalho eram seguros, ou pelo menos pareciam ser em comparação com os McJobs precários e pensões reduzidas de hoje. Em retrospectiva, vista da perspectiva tediosa dos dias de hoje, pode parecer idílico, como algo que vale a pena tentar restaurar.
Mesmo em sua aventura mais programática, o New Deal circunscreve a imaginação. O idealismo do New Deal não é isento de críticas. Muitos apontam suas deficiências. Fez as pazes com a segregação racial. Alguns argumentam que suas reformas sociais foram concebidas e executadas deliberadamente para excluir os afro-americanos. As mulheres eram tratadas como cidadãs de segunda classe. O estado de bem-estar institucionalizou o patriarcado. Suas disposições salariais mínimas eram tão insignificantes que sobreviver com elas era quase impossível. A habitação e a saúde pública eram apoiadas apenas fracamente. O status probatório das grandes empresas cessou rapidamente.
Tudo verdade, mas a implicação é que, se essas falhas tivessem sido corrigidas, a ordem do New Deal mereceria a devoção que agora comanda nos círculos liberais e de esquerda. É fácil simpatizar com essa visão dada a situação lamentável em que nos encontramos hoje. Para os liberais, isso é especialmente verdade. Historicamente, a persuasão liberal baseia sua causa em um capitalismo socialmente consciente, que é o que o New Deal era. E ela recua quando a consciência do que, no século XIX, era amplamente chamado de “questão social” ou “questão trabalhista” começa a interrogar as relações de propriedade do próprio capitalismo e a questionar em voz alta o que poderia substituí-las.
Em momentos de perigo como esse, como Walter Benjamin refletiu em suas “Teses sobre a Filosofia da História“, “cada época deve se esforçar novamente” para manter viva a centelha da esperança, para tirá-la “de um conformismo prestes a dominá-la”. Caso contrário, o movimento revolucionário corre o risco de “se tornar uma ferramenta das classes dominantes”.
Normalmente, é aí que o movimento socialista retoma a conversa sobre a vida após o capitalismo. Abstractamente, ele faz isso hoje, ou pelo menos a DSA faz. No entanto, mesmo em sua aventura mais programática, o New Deal circunscreve a imaginação.
Pegue o Green New Deal. A mudança climática não era uma questão nos dias de Roosevelt. Portanto, o Green New Deal é novo nesse sentido. No entanto, seus meios essenciais não são e estão totalmente à vontade na casa do New Deal. Empregos são criados por investimentos privados subsidiados pelo governo em energias renováveis e outras formas de mitigar as mudanças climáticas. Os empregos são destinados a ser bem remunerados e qualificados e vêm acompanhados de alguma retórica vaga sobre o direito de se organizar em sindicatos (embora seja um sinal de quão longe as coisas regrediram que a retórica é vaga e ineficaz, e que a maior parte dos novos investimentos está acontecendo, propositadamente, em locais não sindicalizados).
Um Green New Deal é melhor que nenhum acordo. Mas também pressupõe a acumulação ilimitada de capital em um futuro fundamentalmente semelhante ao que existia antes. E, como observou Rosa Luxemburgo, “se a acumulação ilimitada de capital puder ser assumida, então a viabilidade ilimitada do capitalismo deve seguir”. (Aqueles que afirmam que a mudança climática é uma barreira que o capitalismo é inerentemente incapaz de superar estão, acredito, errados. Refutações aparecem diariamente, incluindo o fato surpreendente de que o Texas produz mais energia renovável do que qualquer estado da união, e não por meio de empreendimentos públicos.)
Se a escolha é entre a extinção das espécies ou o capitalismo, então não há escolha. Mas a mente restauradora encerra a questão antes que seja feita.
No entanto, o fechamento de tais possibilidades é uma condição necessária para alianças entre o mundo liberal e socialistas (mais amplamente definidos para incluir os progressistas dispostos a enfrentar o capitalismo). Forjar uma linguagem comum é essencial. Isso já foi feito antes. Com isso em mente, a esquerda socialista contemporânea se baseia no passado, especialmente no universo metafórico do New Deal.
“A ganância não é uma acusação sistêmica ao capitalismo.”
Bernie Sanders e o movimento que o apoiou como um todo acusam incansavelmente os senhores do sistema por sua ganância. Esta é uma censura moral que desfruta de grande tração política. O Occupy Wall Street forneceu o jargão com sua aritmética social de 1% e 99%. E ecoa a condenação de Roosevelt aos “realistas econômicos”, “trocadores de dinheiro” e saqueadores de “o dinheiro dos outros”. De fato, sua ascendência remonta muito mais longe. Referindo-se à pequena fração da população francesa autorizada a votar sob a monarquia de julho em virtude de suas propriedades, um radical francês na véspera da Revolução de 1848 alertou seus inimigos de classe: “Dormi, senadores dos 3%! Dormi em suas caixas de dinheiro; não vai demorar muito até que vocês sejam despertados novamente!”
A ganância existia muito antes de o capitalismo fazer sua aparição. Pode ofender a todos, desde clérigos até comunistas. No entanto, não é uma acusação sistêmica ao capitalismo.
O capital, como Marx apontou, é uma categoria social, enquanto os capitalistas são, como proprietários, privados e indiferentes às implicações sociais de seu comportamento. Eles podem ser glutões ou abstêmios; em qualquer caso, o capital pode viver e crescer. A linguagem da ganância lubrifica uma relação política entre aqueles supostamente opostos ao sistema e aqueles que não têm inclinação; é uma linguagem de restauração.
Historicamente, no entanto, a esquerda sempre tratou de criar novos mundos. Em vez de restaurar o passado, ela abordava a história como uma plataforma para inspirar o futuro. Criticar o New Deal por suas imperfeições, mesmo as mais condenáveis, é categoricamente diferente de lidar com suas conquistas aclamadas.
“Historicamente, a esquerda sempre tratou de criar novos mundos. Em vez de restaurar o passado, ela abordava a história como uma plataforma para inspirar o futuro.“
Afinal, o que fez a era ser uma era dourada – sua linha de montagem sindicalizada, sua seguridade social, seu padrão de vida decente – teve um preço alto: a monotonia esmagadora desse mesmo local de trabalho sindicalizado; trabalho vigiado, disciplinado e alienante; inibição política; auto-repressão social e sexual generalizada; a jaula de ferro da burocracia (a “noite polar de escuridão gélida” de Weber); a condescendência tutelar do aparato de bem-estar social; a dominação imperial disfarçada de democracia; um apetite insaciável por fantasias de consumo das quais o coração ficava cada vez mais doente; e uma decomposição enervante do organismo social e sua substituição por um individualismo narcisista e anômico. O New Deal foi um tratado de paz que, como muitos desses acordos, deixou as causas subjacentes da guerra sem solução.
Se o New Deal nasceu, em parte, de desejos revolucionários, ressuscitar seu cadáver não reacenderá essas aspirações. Apenas uma antecipação vibrante de uma maneira totalmente nova de vida, uma renovação do futuro, pode fazer isso. Mas o futuro está morto. Como isso aconteceu?
A Vida e a Morte do Futuro
Investir esperança no futuro não era uma preocupação exclusiva dos revolucionários da classe trabalhadora. O próprio capital também está igualmente preocupado, embora apenas no sentido mais abstrato. O retorno do investimento é o futurismo do capitalismo, uma busca incansável que leva o processo de acumulação sempre adiante em direção a um futuro sem características distintivas.
As questões são infinitamente mais concretas do ponto de vista da burguesia em si. O futuro inspirou todas as revoluções liberais dos séculos XVIII e XIX. Liberdade e Progresso definiam o novo mundo que buscavam criar. A liberdade de pensamento, de expressão, de assembleia cívica, de engajamento político, de comércio, de trabalho, de religião, aconteceriam no futuro quando o ancien régime que proibia tudo isso fosse eliminado.
Graças à revolução, a humanidade desfrutaria de um futuro de Progresso ilimitado. Isso incluiria, mas não se limitaria, ao avanço técnico, econômico e científico. A revolução seria a parteira de um futuro de iluminação em constante desdobramento, sem ponto final, uma espécie de revolução permanente da mente e do espírito.
As revoluções originam-se e perpetuam justamente esse tipo de êxtase intelectual e emocional. O mundo é virado de cabeça para baixo e um futuro transformado se apresenta. Isso era verdade nas convulsões liberais do passado, mesmo que derivassem sua energia motriz das revoltas das classes subalternas, o que quase invariavelmente faziam. Heinrich Heine, por exemplo, capturou o espírito universalista na preparação para os movimentos revolucionários das décadas de 1830 e 40: “Qual é a tarefa do nosso tempo? É a emancipação. Não apenas a emancipação dos irlandeses, dos gregos, dos judeus de Frankfurt, dos índios ocidentais, dos negros, dos povos oprimidos desse tipo, mas sim a emancipação de todo o mundo e especialmente da Europa.”
De repente, a política como a arte do possível foi suspensa. Tudo parecia possível. Mesmo aqueles que se opunham ou ficavam à parte dos tumultuados acontecimentos nas ruas – pessoas como Gustave Flaubert e Alexis de Tocqueville – reconheciam a exaltação de “homens possuídos de eloquência frenética, do magnetismo da multidão entusiástica”. Flaubert continuou: “Os ódios estavam ocultos, as esperanças eram exibidas, a multidão está cheia de suavidade.” Tocqueville (membro da Assembleia da Segunda República), irritado contra seus instintos e crenças arraigados, viu a Revolução de 1848 como libertadora: “aqui está a salvação do país”.

Também verdadeiro na França em 1789, onde o insurrecionista Martin Bernard observou em suas memórias na prisão: “Ai daqueles que tentarem bloquear a carruagem do Progresso! Eles serão quebrados sob suas rodas.” E novamente em 1848, e novamente durante a Comuna de Paris de 1871. Mas, nessa época, a celebração do inimaginável tinha passado para as camadas inferiores. Henri Lefebvre observou: “Foi antes de tudo um festival imenso, grandioso… dos deserdados e dos proletários, um festival revolucionário e festival da Revolução.” A Comuna foi “uma abertura ilimitada em direção ao possível.”
O fato de que as classes médias também tinham medo de aonde essas revoltas plebeias poderiam levar e estavam preparadas para esmagá-las (elas iriam “até aqui e não mais além”) não altera o fato de que a burguesia era arquiteta do futuro, moldadora de um Novo Homem, à sua maneira. Afinal, uma abertura ao novo, ao inovador, compunha o DNA dos revolucionários burgueses. O vórtice do futuro os cativava de maneiras que não capturava suas vítimas.
No entanto, vale ressaltar que, se no início as reformas liberais tendiam a ceder lugar a medidas mais radicais, ou a um grande temor sobre onde essas medidas poderiam levar, em nossos tempos, o radicalismo tem sido mais apto a ceder à grande sonolência do liberalismo. Essa mudança gradual no centro de gravidade entre os instintos burgueses e plebeus é uma forma de compreender o fechamento do futuro. O liberalismo nascente da longa era da revolução, engajado com o futuro, dependia das energias irradiadoras que emitia; O neoliberalismo de hoje, mesmo o seu mais vanguardista social, está correndo vazio.
O sagrado secular
O pensamento utópico e os sonhos permeavam a atmosfera antes e durante esta longa era de futurismo revolucionário. Charles Fourier e Henri de Saint-Simon deixaram sua marca não apenas na França, mas em toda a Europa e no Novo Mundo também. Além disso, muito tempo depois que as comunidades inspiradas por Fourier já haviam cumprido seu curso na América pré-guerra civil, experimentos análogos e uma vasta literatura utópica acompanharam as grandes agitações da classe trabalhadora e agrária da Era Dourada. Mesmo Eugene Debs pertenceu a um novo assentamento cooperativo antes de se mudar para ajudar a estabelecer o Partido Socialista. Longe na Rússia, os camponeses evocavam suas próprias utopias, lugares mágicos, cidades subaquáticas e reinos subterrâneos, que em breve se fundiram com os levantes terrenos dos despossuídos e empobrecidos.
De fato, o próprio significado de utopia como conceito mudou. Antes, digamos, no tempo de Thomas More, significava um lugar impossível (uma ilha fictícia em Utopia de More ou “nenhum lugar”), imaginado no presente, vagamente se assemelhando a um mosteiro perfeito. Após a Revolução Francesa, a utopia apontava para um lugar possível, mas que seria em algum momento no futuro.
O sentimento religioso também foi infectado pela febre revolucionária. Sem contar a vida após a morte, o cristianismo não tinha um lugar para um futuro aqui na Terra diferente do que sempre foi – apenas uma reciclagem perpétua até chegar o momento além do tempo. São Agostinho, por exemplo, condenou a astrologia como um pecado por se atrever a prever o futuro, um dom estritamente reservado ao Divino. Uma razão pela qual a religião oficial (tanto católica quanto protestante) censurava a especulação financeira (e o jogo em geral) era por sua arrogância em mexer com o futuro.
“Mas durante a longa era de revolução que deu à luz o mundo moderno, estes movimentos incendiaram suas imaginações com apreensões proféticas, infundidas religiosamente, de um novo mundo.“
Homens e mulheres da esquerda na Europa, nos Estados Unidos e em todo o mundo apropriaram-se de sentimentos que outrora pertenciam à autoridade eclesiástica e os utilizaram em prol da emergente nova sociedade. O revolucionário francês Louis Blanc anunciou que “a tarefa de nossa época é trazer de volta o fervor ao sentimento religioso, combater a insolência do ceticismo”. Socialistas judeus na América e em outros lugares comparavam a revolução à vinda do Messias: uma salvação terrena. Outras comunidades imigrantes faziam o mesmo. Até mesmo os Trabalhadores Industriais do Mundo (IWW), irreverentes e anticlericais em sua essência, inspiravam as fileiras ao lembrar do “carpinteiro vagabundo de Nazaré”, cujo sonho “vestido com a roupa original do comunismo e da fraternidade continua soando intermitentemente através das eras”.
Ressonando nessas invocações religiosas estava uma lembrança da história que parece se assemelhar aos ritos realizados pelos movimentos restauracionistas da direita e da esquerda na atualidade. O que eles buscam é ressuscitação. Mas essa aparente semelhança é uma percepção equivocada. A consciência histórica entre as classes revolucionárias – burguesa, artesã, proletária, camponesa – informava e inspirava visões de futura transformação social até o século XX. Eles estavam olhando para trás para saltar para frente.
Já na Guerra dos Camponeses Alemães de 1525, o desafio à autoridade estabelecida (tanto feudal quanto eclesiástica) enunciado nos “Doze Artigos” dos camponeses suábios imaginava uma “nova ordem mundial” radicalmente democrática. A história, tanto quanto a teologia, era sua justificação; Jesus havia redimido tanto o pastor quanto o nobre, então era “lamentável” que “fôssemos tratados como servos”. Desde então, lembrar do passado, seja expresso em linguagem religiosa ou em termos puramente seculares, proporcionou um ponto de referência e um trampolim para remodelar o presente.
Os abolicionistas, por exemplo, baseavam seu caso para a emancipação, em parte, em uma Declaração de Independência que nunca deveria sugerir tal futuro. Ex-escravos ajudaram a dar à luz uma república agrária no sul reconstruído – uma vitória revolucionária, embora breve, sobre o capitalismo – sustentada pela mesma tradição emancipatória e igualitária. Populistas americanos invocavam repetidamente memórias da Revolução, da mesma Declaração de Independência e dos escritos de Tom Paine – não para recriar esse passado, mas para mobilizar a luta por uma nova república cooperativa.

Seus irmãos da classe trabalhadora nos Cavaleiros do Trabalho faziam o mesmo. Assim também fez o Partido Socialista de Eugene Debs, que recorreu à herança democrática do país para acender a luta por uma futura democracia socialista. O movimento pelos direitos civis do meio do século XX contava com um cristianismo negro impregnado de previsões de liberação, míticas e reais. Mesmo os círculos liberais que ajudaram a engenhar as reformas da era progressista e do New Deal conceberam genuinamente seu trabalho como inovação com base no precedente histórico sob circunstâncias sem precedentes.
Todo 1º de maio celebra os anarquistas de Haymarket. Memórias de Emiliano Zapata ou Augusto César Sandino ou Forabundo Martí energizam seus descendentes revolucionários. O calor emanado de uma explosão social pode alquimizar a tradição histórica, transformando o que um dia foi a base do ancien régime em seu executor, abrindo caminho através do muro que separa o presente de sua alternativa.
Quando os soldados do czar russo massacraram 1.500 manifestantes no gelo do rio Neva no “Domingo Sangrento” de 1905, o padre Georgy Gapon, o “paizinho” que os levou a implorar ao czar que poupasse o povo de seus “exploradores capitalistas”, ficou horrorizado: “Não temos czar”, foi sua conclusão portentosa. Embora Walter Benjamin tenha sido o mais severo crítico do Deus do Progresso, ele se esforçou para reconhecer que “não pode haver luta pelo futuro sem uma memória do passado”.
A história, então, pode se tornar uma ativista. Como? Todas as lembranças de explorações e opressões passadas, cofres cheios de insultos, aviltamentos e rasuras se abrem para campos de raiva e indignação – uma sede de vingança, é certo, mas também desejos de redenção e libertação. Benjamin inverte a lógica convencional; Revoluções “são alimentadas pelas imagens de antepassados escravizados e não pelas de netos libertos”.
Uma escatologia revolucionária permanece terrestre na medida em que seu anticapitalismo se baseia em histórias, em parte míticas, em parte reais, que antecederam o capitalismo. Isso pode ser traduzido como uma memória inventada do comunismo primitivo, como indiscutivelmente Marx postula quando olha para o futuro. Lá, na pré-história, ele encontra uma vida anterior antiautoritária e não hierárquica.
Se não esse tipo de passado pré-histórico, então os pré-capitalistas também serviram à causa. Isso foi verdade para vários movimentos da classe trabalhadora de base artesanal: para os Cavaleiros do Trabalho e para o Partido Populista e o IWW nos Estados Unidos, para as insurreições camponesas na América Latina e na Europa, muitas vezes impregnadas de teologia liberacionista. Durante todo o século XIX, levantes revolucionários foram acompanhados de demandas para restaurar os direitos consuetudinários de tempos anteriores.
Como observa um historiador, sempre que os sistemas tradicionais feudais de uso da terra foram substituídos por “formas mais homogêneas de propriedade e exploração comercial, as comunidades responderam com protestos, ações judiciais, ocupações ilegais e ataques a funcionários executores”. O mesmo aconteceu em vilas e cidades onde, por exemplo, as greves de tecelões em Lyon e na Silésia nas décadas de 1830 e 40 tiraram sua energia de experiências históricas de vida “pré-moderna”, a vida antes do ethos racionalista-utilitarista da era moderna degradou o trabalho e fez máquinas de homens. Estavam em jogo “liberdades antigas”. Nesses casos, entre muitos outros, o passado enriquece e é portador de esperanças utópicas.
“A esquerda deve escapar do campo gravitacional do passado ou então corre o risco de se tornar sua imitação. Igualmente mortíferas, mais mortíferas de fato, as contrarrevoluções que convocam o passado para impedir um futuro indesejado podem liberar uma paisagem noturna de medos.“
Assim, o passado pode ser prólogo – não apenas para o presente, mas para um desfazer do presente. Leon Trotsky apreendeu a história, incluindo a história da revolução, como um “desenho de diferentes etapas da jornada (…) um amálgama do arcaico com formas mais contemporâneas.” No entanto, como sugere nossa situação contemporânea, a história pode, ao contrário, ser uma armadilha.
Marx, entre outros, fez esse ponto, observando em seu Décimo Oitavo Brumário de Luís Napoleão que a esquerda deve escapar do campo gravitacional do passado ou então corre o risco de se tornar sua imitação. Igualmente mortíferas, mais mortíferas de fato, as contrarrevoluções que convocam o passado para impedir um futuro indesejado podem liberar uma paisagem noturna de medos: xenofobia, misoginia, luxúria de sangue e bodes expiatórios raciais.
A relação é volátil. Isso é especialmente verdadeiro em um momento em que um senso de futuro está vivendo com rações curtas, pairando perto da morte, e sua visão tornou-se tão míope que o “futuro” é difícil de distinguir de onde vivemos agora.
O progresso e a morte do futuro
“Distópico” caracteriza muito do pensamento recente sobre o que está por vir. O futuro é sombrio. Catástrofes climáticas, pandemias, caos social e massacres prenunciam o fim. O grito de guerra do punk era “No Future”. Na virada do novo século, bandas populares cantaram “Planetary Burial“, “Pure Fucking Armageddon” e “Final Sickness“. Até o New York Times noticiou em outubro passado que os Estados Unidos pararam de “gastar com o futuro”. Esse é o destino do Antropoceno ou, como alguns chamariam, do “Capitaloceno”.
Isso é sentido como um destino porque um sentimento de impotência para impedir que tudo aconteça se aproxima. O progresso, durante séculos a fé secular do mundo moderno, perdeu seu poder de inspiração, foi esvaziado ou, pior, transformou o sonho no longo sono. O progresso está cometendo ou já cometeu suicídio.
Mas não é bem assim. Para alguns, as tecno-utopias mantêm viva a esperança. A tecnologia da informação, em geral, e a inteligência artificial (IA), em particular, renovam a promessa do Progresso. Ou será que sim? Erik Byrnjolfsson e Andrew McAfee em The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies nos pedem para contemplar um substituto robótico para o trabalho humano em que o robô “possa trabalhar o dia todo sem precisar de sono, almoço ou coffee breaks”. Melhor ainda, “não exigirá assistência médica de seu empregador ou aumentará a carga tributária sobre a folha de pagamento”. Um universo social sem atritos nos espera.
Indiscutivelmente, este é um caso clínico de declinação utópica que se aproxima perigosamente de uma espécie de distopia gerencial. Quando olhadas mais de perto, essas “digitopias” parecem mais sobre vigilância e controle, retratando um mundo de auto-repressão internalizada, camuflada como “likes”. E o mundo “olha ma, sem mãos” da IA, e da tecnologia da informação em geral, é subscrito pelo trabalho escravo em locais como as minas de cobalto do Congo. Não só isso, mas tal investimento em alta tecnologia pressupõe a automação de mão de obra qualificada e semiqualificada, degradada e barata e intensamente vigiada. Além disso, a premissa de que a nova tecnologia de máquinas eliminará a necessidade de trabalhadores é desmentida pelo crescimento das classes trabalhadoras globais em dois a três bilhões de pessoas nas últimas duas décadas.
As utopias sobre a libertação do trabalho – uma vida de lazer perpétuo como forma perversa de salvação – são ofuscadas por presságios. Filmes, teledramas, romances e graphic novels, para não falar das profecias fundamentadas nas ciências sociais, estão repletos de ansiedades sobre o trabalhador lobotomizado, vigiado, medicamente rearranjado, objeto de manipulação das elites. Simplificando, estes podem ser vistos como a descendência cultural dessa transição para o capitalismo cognitivo.
“As declarações de independência, inscritas nas bandeiras dos tecnofuturistas, escondem uma forma atualizada de proletarização.”
No entanto, o que a princípio prometia abrir um caminho para o empoderamento do trabalho, o trabalho cerebral, se transformou em seu oposto. Sob o reinado da propriedade privada e da acumulação de capital, o novo trabalhador do conhecimento precisava ser resubordinado e os domínios do conhecimento comum mercantilizados, privatizados e monopolizados, se possível. O admirável mundo novo do trabalhador do conhecimento é tão programado quanto qualquer coisa sonhada por Frederick Taylor. As declarações de independência, inscritas nas bandeiras dos tecnofuturistas, escondem uma forma atualizada de proletarização.
Além disso, esse futuro tecno tem seus colaboradores humanos trabalhando em departamentos de gestão de recursos humanos, que, nas palavras de um analista, são como “extraterrestres que planejam colher a humanidade”, aperfeiçoando sua ciência para detectar e eliminar as patologias de funcionários incapazes de se adaptar. A distopia é a realidade. Lá, o trabalhador é minerado e monitorado e corre o risco de perder o senso de si mesmo.
A corporação reabilitada surge como uma presença opaca, mas onisciente e proibitiva. Laqueado por fora com boa vontade desarmante, mestre de bloviações banais sobre auto-realização, seu lado sombrio distópico não serve para nada. Na medida em que essa última onda de Progresso idealizado, o capitalismo cognitivo, coloniza toda a vida, onde todos em todos os momentos (não apenas no trabalho) são produtores de informações capitalizadas, a distopia de hoje expande o alcance da proletarização para reinos infinitos e íntimos.
Tudo isso equivale a Progresso com uma vingança. Antes inspirador, agora esgotado, ou pior, o Progresso tornou-se uma ameaça: não tanto uma promessa de um futuro diferente, mas como o que já temos, só que mais.
Quem matou o futuro?
O futuro tem história. Nasceu há várias centenas de anos. Foi como o surgimento de um sexto sentido; que havia um tempo e um lugar em que o desconhecido se inventaria, onde a natureza revelaria todos os seus segredos, onde os poderes da humanidade esfoliariam sem fim, quando os antagonismos sociais desapareceriam, tornou-se parte da urdidura e do desgaste do que chamamos de modernidade.
É verdade que, mesmo em sua vida formativa, o futuro revelou seu lado sombrio: uma insinuação furtiva de que algo de valor poderia ser deixado para trás na esteira do Progresso. Para alguns, como Benjamin, o lado sombrio do Progresso era seu único lado. O capitalismo industrial havia transformado essa insinuação em uma realidade angustiante. Ainda assim, o futuro mostrou notável resistência, graças primeiro à destruição criativa da burguesia, com a tocha foi passada para o proletariado revolucionário.
Mas mesmo os mais sanguinários sabiam que o progresso dificilmente estava assegurado. Lênin, por exemplo, reconhecia que não havia situação da qual o capitalismo não pudesse escapar, encontrar uma solução. A crise pode levar a um novo capitalismo, ao socialismo ou a uma nova barbárie de destruição mútua. O próprio Marx cogitava a possibilidade: “A barbárie reaparece, mas criada no colo da própria civilização, e a ela pertencendo, daí a barbárie leprosa, a barbárie como lepra da civilização”.
Quem são os portadores da tocha agora? Podem ser novamente as classes trabalhadoras?
Hoje, os missionários estão em silêncio. Este poderia ser o plano de um baby boomer envelhecido. Na verdade, a minha geração (ou melhor, aquele fragmento dela apanhado na turbulência dos anos 60) pode ter sido a última a acreditar no futuro. Nos termos mais básicos, eles eram herdeiros da reconfiguração do capitalismo pelo New Deal; 90% ganhariam mais do que seus pais (uma porcentagem que foi reduzida pela metade para as faixas etárias subsequentes, de acordo com Fintan O’Toole na New York Review of Books).
“O capitalismo ajudou a inventar o futuro. Depois, matou-o.“
Então, o futuro acenou. No entanto, a Nova Esquerda e o universo cultural mais amplo em que foi alimentada não era de forma alguma revolucionária, ou mesmo socialista, em geral. Ainda assim, sentiu-se compelido a imaginar algum tipo de alternativa ao Estado burocrático-administrativo de bem-estar e guerra, ao seu apartheid interno e ao imperialismo no exterior. O liberalismo, e não apenas o liberalismo da Guerra Fria, era seu inimigo. O liberalismo não era apenas uma ideologia, mas um modo de vida cuja subestrutura era o capitalismo corporativo. (Quão claramente diferente do que as coisas são agora, quando grande parte da esquerda putativa passou anos defendendo o liberalismo, de várias formas, das investidas da direita).
O capitalismo venceu. Mesmo que se admita que os “boomers” iniciantes vislumbraram um novo caminho, ele era frágil, evanescente e muito enredado nas teias do individualismo competitivo e da cultura de consumo que sustentavam a ordem vigente. O capitalismo ajudou a inventar o futuro. Depois, matou-o.
O assassinato não aconteceu de uma só vez, nem por desígnio, no entanto; era administrado sem previsão e funcionava mais como um veneno de ação lenta. E se o capitalismo, em sua distinta forma neoliberal, foi o culpado, ele teve muitos cúmplices.
O que é comumente chamado de neoliberalismo poderia ser melhor caracterizado de um ponto de vista materialista como a era da desindustrialização e da desacumulação, como uma economia de bolha de ativos com pouco investimento produtivo. Indiscutivelmente, uma devolução econômica tão prolongada ditou uma política de retrocesso.
A desindustrialização não foi apenas destrutiva, mas desmoralizante. Modos de vida inteiros foram por água abaixo. Indústrias, sindicatos, cidades, igrejas, sociedades fraternas, comércios de rua, hospitais locais, escolas, centros comunitários, cinemas e dezenas de locais de encontro social, de restaurantes a pistas de boliche, morreram ou permaneceram como restos fantasmagóricos. A partir do final dos anos 1990, o que um livro chamou de “mortes de desespero” se tornou uma epidemia. Essas mortes por suicídios, ou suicídios por drogas e fígados saturados de álcool, ocorreram desproporcionalmente entre pessoas brancas de meia-idade, aquelas supostas beneficiárias do Progresso: principalmente a classe trabalhadora, sem educação superior, muitas vezes desempregada, com medo das novas tecnologias da era da informação, com mobilidade descendente, vinda de casamentos fracassados e famílias desfeitas e redes de apoio social cada vez menores.

As capacidades de resistência, especialmente o movimento operário, tornaram-se defensivas, estreitas e murchas. Ambos os partidos governistas fizeram sua parte para minar o movimento trabalhista, no caso dos republicanos, ou abandoná-lo em favor do mercado, no caso dos democratas.
Todas as outras instâncias de resistência também falharam. O que um autor descreveu como os “Setenta Subversivos“, citando revoltas locais da França e Itália à Turquia e Argentina, são pouco lembrados hoje. As manifestações mundiais contra as maquinações financeiras e comerciais do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio, inauguradas em Seattle em 1999, pouco mudaram. Assim como os protestos ainda mais massivos contra a guerra no Iraque.
A ocupação, acontecendo à sombra da Grande Recessão, parecia sinalizar uma revolta global contra “o sistema” (definido como um sistema de má distribuição). No entanto, também expirou rapidamente. É verdade que deixou para trás uma preocupação contínua com a desigualdade econômica que ajudou a tornar Bernie Sanders um ícone político. No entanto, no que diz respeito à visão de um futuro radicalmente novo, o movimento permaneceu cativo do passado, por mais bem-vindo que fosse um nivelamento econômico sério. E, afinal, Sanders perdeu, enquanto no estrangeiro também o Syriza na Grécia, durante algum tempo o desafio mais emocionante à eurobancarização. A ordem neoliberal manteve o curso, enfraquecida, seus mandarins talvez um ácaro menos confiante, mas íntegro.
Seattle, Sanders, a ascensão meteórica de um movimento socialista nos Estados Unidos e os desafios políticos à ordem global em outros lugares mudaram o zeitgeist, no entanto. O anticapitalismo, fora da agenda há mais de uma geração, encontrou voz. Se o futuro quiser voltar à vida, ele pode ser alimentado por energias desencadeadas por esses surtos, mesmo em suas derrotas. Ainda assim, derrotados, foram.
Que maneira mais decisiva de obliterar qualquer sentido de futuro revolucionário do que derrotar e derrotar novamente todas as instâncias de resistência ao modo como as coisas são? Após o massacre de junho dos trabalhadores parisienses em 1848, George Sand se desesperou: “O que há para dizer? O futuro parece tão sombrio que sinto um grande desejo e uma grande necessidade de explodir meus cérebros… Não acredito na existência de uma república que comece por matar os seus proletários.” Quase um século depois, Bertolt Brecht ecoaria Sand: “Nós também estamos decepcionados e / incertos / Ao ver nossas perguntas todas ainda / abertas após a queda da cortina”.
Quão melhor, através da punição derrota após derrota, incutir um clima de rendição a um presente sombrio e eterno? Esta parece ser uma pergunta retórica. Mas não é. Algo ainda mais fatal do que a derrota contagia nosso estado atual de coisas. São antes as operações normais da própria ordem neoliberal, para além dos seus triunfos sobre quaisquer inimigos externos, que geram uma sensação de estagnação, de “este é o fim”.
Isso foi anunciado por Francis Fukuyama em seu best-seller O Fim da História e o Último Homem, publicado em 1992: um epitáfio para o futuro falecido. Seu pronunciamento incluiu uma nota de pesar pelo falecimento de todas as grandes visões de mundo apaixonadas sobre os futuros transcendentes que viriam e que definiram o Ocidente moderno por séculos. Foi, notou com alguma melancolia, “um tempo muito triste”, o fim das lutas ideológicas mundiais que exigiam “ousadia, coragem e imaginação”. Mas morreram; enfaticamente assim com o colapso da União Soviética pouco antes do livro sair. A democracia liberal provou ser a resposta ao enigma da história sobre o destino da humanidade.
As questões que ficaram foram essencialmente de natureza técnica e gerencial. Todos os partidos poderiam agora concordar com isso, incluindo aqueles bastiões da social-democracia, como o Partido Democrata New Deal nos Estados Unidos. Foram cúmplices na construção de uma esfera política limpa de questões perturbadoras sobre a natureza da ordem social. O ajuste, a estabilização, a manipulação desse mecanismo fiscal ou desse fluxo monetário, elevando ou baixando a rede de proteção social, tomaram conta da substância e da linguagem da política, esvaziando-a de qualquer significado mais profundo.

O liberalismo, ao se transformar em neoliberalismo, traiu-se ao abandonar o futuro. Como Christopher Lasch apontou décadas atrás, isso implicou abrir mão de sua própria tradição humanista, seu point d’honneur e a base de sua legitimidade em favor de uma promessa mal cumprida de entregar os bens. Tornara-se sua própria refutação; ao mesmo tempo aplaudindo um individualismo extremista, causando estragos aqui, ali e em todos os lugares em nome da liberdade, ao mesmo tempo em que lamenta a perda da comunidade e da família que seus próprios imperativos tornaram inevitáveis.
À exceção dos jogadores dessa farsa, todo mundo deu um passe, foi AWOL na hora de votar, para não falar daquelas formas menos passivas de participação política. A política neoliberal não era política. Tornara-se estreito, mundano e mesquinho, insistia na mudança sem drama. Em uma palavra, era chato.
E o tédio era o menor deles. As ramificações culturais e psicológicas penetraram em domínios mais íntimos. Mark Fisher zerou todas as zonas mortas. A ironia passou a dominar o estilo, o tom e o humor, um mecanismo de distanciamento que congelava a crítica no útero. O cinismo ficou para trás. Nominalmente em desacordo com o status quo, o resultado desse conhecimento foi uma resignação passiva.
O hip-hop passou da alienação para a incorporação, tornando-se uma imagem espelhada do mundo de vencedores e perdedores do capitalismo, brutal como qualquer enxugamento corporativo magro e mesquinho. A indústria cinematográfica mostrou sua elasticidade, acolhendo em seu abraço cinematográfico a crescente animosidade contra a corporação maligna; Os filmes ganharam dinheiro gesticulando contra o capitalismo. A sabedoria das ruas ecoava a da academia, do ateliê político e dos corredores do poder; não há alternativa.
A própria realidade parecia decadente, velha e senil. A fuga podia ser encontrada na nostalgia, na saudade do passado, num pastiche de imagens e mitos que poderiam, talvez, sedar a sensação de impotência e perda, a sensação assustadora de que o futuro havia sido cancelado. Transcrições românticas de momentos liberados anteriores (os anos 60 em particular) funcionavam como cathexes entorpecendo a dor do fracasso. (O movimento Occupy no campus da Universidade da Califórnia em Santa Cruz emitiu um “comunicado de um futuro ausente”.)
A própria realidade parecia decadente, velha e senil. A fuga podia ser encontrada na nostalgia, na saudade do passado, num pastiche de imagens e mitos que poderiam, talvez, sedar a sensação de impotência e perda, a sensação assustadora de que o futuro havia sido cancelado.
No plano emocional, as correntes neoliberais permeavam o self alimentando-se de desejos anteriores à sua hegemonia política. O indivíduo autossuficiente, o trabalho como redentor, mas desvinculado de horários rígidos, a frustração com o governo corrupto, as ansiedades igualitárias gratificadas pela meritocracia, o ressentimento com os freeloaders, os anseios primordiais por independência adequada por meio de hipotecas colateralizadas: tudo isso equivalendo a se apaixonar pelo opressor talvez, mas ao mesmo tempo compelido a sucumbir às tensões do capitalismo cognitivo, sua ansiedade crônica, medos, fixações no trabalho, seus impulsos competitivos implacáveis, isolamento social e narcisismo.
Uma ambição empreendedora revivida impulsionou o universo neoliberal, produzindo, no entanto, uma sensação generalizada de risco, de fracasso iminente que levou ao auto-escrutínio crônico e crises de depressão. William Gibson, em seu romance Pattern Recognition, observou apropriadamente: “Não temos futuro porque nosso presente é muito volátil. A única possibilidade que resta é a gestão do risco.” Se o futuro existisse, era de se temer.
E em tempos tão precários, a resposta natural tem sido restaurar a segurança do passado (como foi). Será esta a dialética do nosso momento, preenchido como se tornou com agitações revolucionárias insurgentes na esquerda não vistas há mais de uma geração? É para ser o New Deal 2.0? A observação frequentemente citada por Marx do XVIII Brumário parece aplicar-se:
A tradição de todas as gerações mortas pesa como um pesadelo no cérebro dos vivos. E assim como parecem ocupar-se em revolucionar a si mesmos e às coisas, criando algo que não existia antes, justamente em tais épocas de crise revolucionária evocam ansiosamente os espíritos do passado a seu serviço, emprestando-lhes nomes, slogans de batalha e trajes para apresentar essa nova cena da história mundial com disfarces consagrados pelo tempo e linguagem emprestada.
Irving Howe, de todas as pessoas, uma vez caracterizou a liderança do antigo Partido Socialista, como foi envolvido pelo New Deal de Roosevelt, desta forma: “Suas mentes ainda funcionavam, mas suas imaginações haviam se fechado”. Alguns na esquerda estão contentes ou resignados por estarem tão envoltos; outros nem tanto. O que é lembrado com carinho como o “solavanco de Sanders” canalizou um desejo pelo socialismo. Existe uma plataforma de transição (para tomar emprestada uma velha noção), uma forma transitória de consciência social, uma alternativa a uma crença comatosa no Progresso que atenda a esse impulso?
Sobre os autores
Steve Fraser
é um escritor e historiador cujo último livro é Mongrel Firebugs and Men of Property: Capitalism and Class Conflict in American History (Verso).