Nas primeiras semanas de 2022, houve uma onda de interesse nostálgico pela moda “twee”, um estilo que a maioria dos comentaristas vincula à época de Zooey Deschanel no início dos anos 2010: roupas peculiares, cores em tons pastéis, música com ukulele. O estilo já foi amado, detestado e debatido interminavelmente, mas na percepção pública se trata de uma microtendência frívola, desprovida de qualquer história maior.
No entanto, o twee – especialmente na Grã-Bretanha – possui um legado político muito mais longo e complexo, ligado ao punk, à oposição ao thatcherismo e a uma tentativa incipiente de criar uma cultura musical socialista. Em uma época em que a música britânica está novamente se tornando cada vez mais radical e assistindo seu radicalismo ser explorado e comercializado, a história do pop faça-você-mesmo na Grã-Bretanha oferece um estudo de caso único sobre como pode ser a construção de um movimento musical socialista.
A palavra “twee” – originalmente pejorativa, agora abraçada por algumas pessoas – foi aplicada inicialmente a bandas pop da década de 1980 que faziam músicas utilizando guitarras num estilo “jangle” (um termo que nasceu a partir da letra de Mr. Tambourine Man, de Bob Dylan, também gravada pelos Byrds, e que passou a designar um som ultramelódico, marcado por arpejos em guitarras relativamente limpas e estridentes, como popularizado em meados dos anos 60 e que influenciou artistas de diferentes gerações, como Big Star, R.E.M., Smiths, Drums e Real Estate), como Shop Assistants ou Talulah Gosh, muitas das quais apareceram na compilação C86, lançada em fita cassete numa edição especial da revista NME, ou assinaram contrato com o selo independente Sarah Records, de Bristol. Essas bandas compartilhavam algo da estética nostálgica, quase enjoativa, associada à concepção moderna do twee: cores vivas, letras elaboradas, um senso de estilo feminino, inspirado nos anos 1960.

O que diferenciava selos como o Sarah Records era a maneira como eles traduziam essa imagem em uma prática política. O Sarah não foi o primeira a chegar à cena indie pop que florescia na Grã-Bretanha: quando foram fundados em 1987, o selo Postcard Records, de Glasgow, já havia sido pioneiro nessa sonoridade com grupos como Orange Juice e Josef K, enquanto o selo Creation Records estava agarrando os pesos pesados, como The Pastels e um Primal Scream pré-Screamadelica.
No entanto, enquanto outras gravadoras independentes eram no geral apolíticas, o Sarah Records colocava os valores socialistas na linha de frente do seu trabalho. “Nós nos inspirávamos mais no punk, do Crass ao Chumbawamba, do que na cena da qual fazíamos parte”, nos contou Clare Wadd, que fundou o selo Sarah aos dezenove anos ao lado de Matt Haynes. Haynes acrescenta: “Era a época de Margaret Thatcher – da greve dos mineiros, da Guerra das Malvinas, dos protestos de Brixton, tudo isso era história recente. Como você poderia não ser político?”
Como resultado, muitos dos artistas mais conhecidos do Sarah Records também adotavam visões de esquerda em suas músicas. Um grupo, o Orchids, escreveu um hino contra o projeto do “imposto comunitário” (“poll tax”), “Defy the Law” (“Desafiar a Lei”). O Blueboy – um dos principais grupos queer/lgbt da época – em oposição à “Cláusula 28” (um projeto que incluía um conjunto de leis para “proibir a promoção da homossexualidade”), escreveu “Clearer” (“me deixe ser livre dessa vez / é a minha vez, está ficando mais claro, dia após dia”) ; O EP “Atta Girl” do Heavenly é uma reprimenda feroz ao abuso sexual e à culpabilização da vítima.
Ainda mais importante do que as letras explicitamente políticas escritas pelas bandas do selo Sarah era uma filosofia subjacente de que a música pop, em sua celebração de alegria comunitária, poderia por si mesma ser algo político. “Você nunca vai começar uma revolução estando deprimido”, nos diz Haynes. Para as bandas de pop faça-você-mesmo dos anos 80, o ato de abraçar o entusiasmo e a beleza diante do desespero político era um tipo próprio de rebelião.
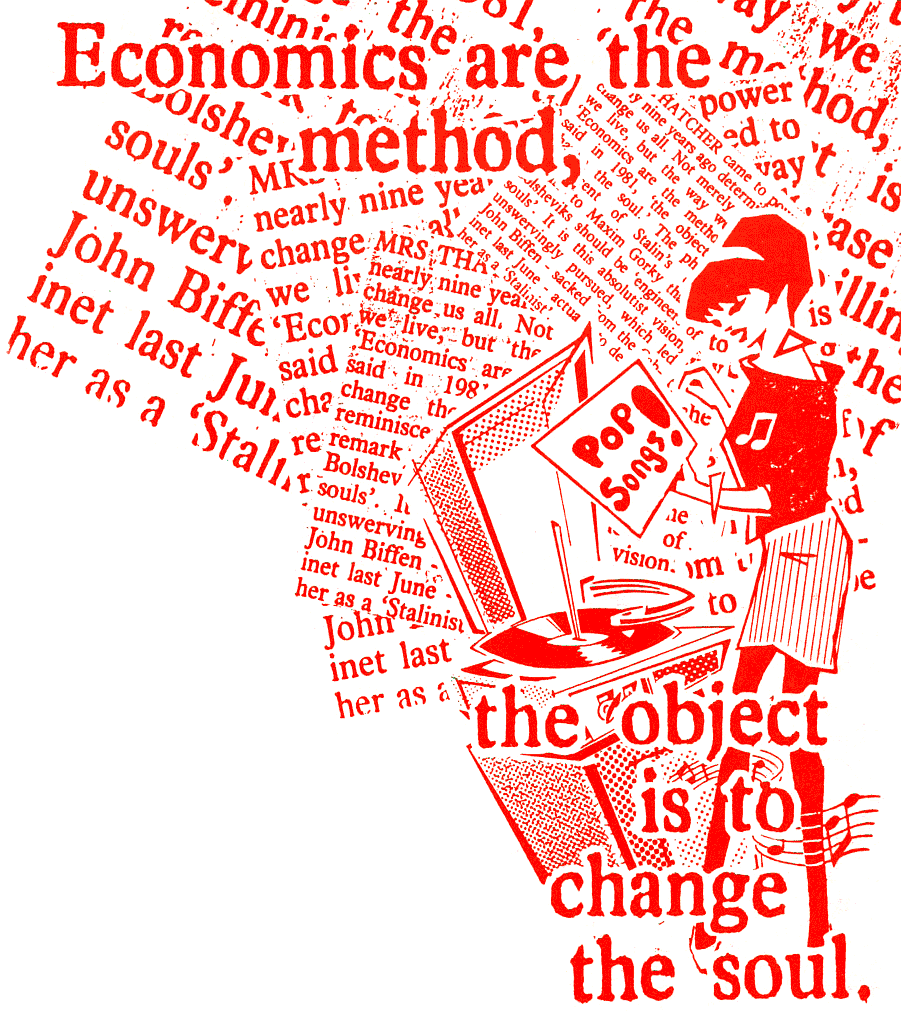
Além do som em si, Wadd e Haynes também buscavam construir uma forma de fazer e compartilhar música que existisse fora dos modos de produção capitalistas. “Nós nunca tentamos administrar um negócio”, diz Wadd. “Estávamos tentando disponibilizar músicas brilhantes para o maior número possível de pessoas.” Um dos gestos mais famosos do Sarah Records foi se recusar a lançar singles em vinil de 12 polegadas, que eles viam como uma maneira de explorar os clientes em contraste com os singles de 7 polegadas, mais acessíveis. Como explica Wadd: “Sabíamos que as pessoas que compravam nossos discos na maioria das vezes não tinham dinheiro, então queríamos garantir que cada disco fosse realmente especial e que eles não fossem enganados para comprar a mesma música várias vezes.”
Essa visão crítica da indústria se estendia até reprimendas públicas às outras gravadoras independentes. Clare escreveu uma série de cartas fervorosas para revistas, como uma para a NME em 1992, denunciando as gravadoras que embarcaram no thatcherismo ao transformar a música pop em um produto: “o setor independente destruiu a si mesmo ao imitar as grandes gravadoras. Não teve coragem, imaginação, bom senso ou consciência política.” Quando era hora de promover seus próprios discos, as listas dos lançamentos do outono vinham acompanhadas de chamados por “socialismo, feminismo, revoluções”.
Para entender por que as posições do Sarah Records eram tão radicais, também é importante saber o quanto era comum que eles fossem depreciados, mesmo dentro de sua própria comunidade – especialmente porque o selo era co-administrado por uma mulher. Clare fala sobre “pessoas que assumiam que eu era uma recepcionista quando atendia o telefone”, “ter de ligar para nossos distribuidores franceses e exigir que eles nunca mais usassem uma foto de uma mulher fazendo topless para anunciar nossos próximos lançamentos” e “jornalistas musicais sendo desdenhosos porque a gravadora tinha um nome feminino e uma mulher como co-diretora.”
Também essas atitudes davam de encontro com a oposição no Sarah. Em outra das cartas de Clare, dessa vez para a revista Melody Maker, ela zombou de sua “escrita para homens feita por homens”, dizendo que “o tratamento que vocês dão às mulheres reforça o status quo do papel de uma mulher como sendo amplamente decorativo”. “A cena toda era profundamente sexista, e esse sexismo estava profundamente arraigado”, acrescenta Clare.
O Sarah Records brilhou, mas também queimou rápido – e em 1995, depois de apenas 100 lançamentos, a gravadora fechou. Para Wadd e Haynes, era mais importante deixar um corpo de trabalho artisticamente puro do que ser engolido pelo comercialismo usurpador da indústria musical.
A música, no entanto, seguiu em frente. Bandas como Belle & Sebastian e Camera Obscura encontraram um sucesso crescente no mainstream e, mais à frente, o pop independente do passado tornou-se outro marco em uma cultura millennial alimentada pela nostalgia. As músicas do Belle & Sebastian acabaram sendo usadas na trilha sonora do filme Juno, que, junto com (500) Dias Com Ela, tornou-se uma pedra angular do renascimento do estilo durante os anos 2010.
No entanto, esse renascimento refletiu principalmente a cooptação da estética a serviço do comercialismo. Nada de cartas incendiárias às instituições musicais dominantes sobre exploração e sexismo: essa era uma versão do twee para o mercado de massa, despolitizada e sem dentes.
Os espaços no underground do pop independente que perduraram frequentemente também estavam manchados pelas mesmas exclusões contra as quais o Sarah outrora lutou. Em vez de buscar uma visão política de esquerda, grande parte da cena se apoiou nos louros de seus antecessores, promovendo uma complacência política na qual a intolerância ou a misoginia poderiam passar sem contestação.
“Um dos problemas em se idolatrar uma cena é que isso pode impedir a autorreflexão e a crítica interna”, me diz Sandy Gill, uma das fundadoras do festival de música faça-você-mesmo Decolonise Fest. Com as experiências das mulheres, pessoas queer/lgbt e não brancas nas cenas de pop faça-você-mesmo permanecendo em geral confinadas a redes de sussurros e discussões em fóruns durante esse revival, algumas pessoas diriam que passou da hora do twee passar pelo tipo de escrutínio pós-campanhas do tipo #MeToo (#EuTambém) que alcançou outras partes do mundo da música indie. Muitos sentem que a responsabilização é algo essencial: como diz Gill, “as pessoas afetadas precisam se sentir seguras o suficiente para trazer as coisas à tona, sem medo de sofrerem abuso [por isso]”.
Gill montou o Decolonise Fest junto com um grupo de outros músicos e organizadores do universo do faça-você-mesmo, em parte em resposta à intolerância que enfrentavam em suas respectivas cenas musicais. “Todos nós tivemos experiências semelhantes com o racismo”, diz Gill, “e descobrimos que havia uma verdadeira hostilidade e relutância em lidar com isso.” Agora, esse é apenas um exemplo de grupos trabalhando para trazer a política de volta ao indie pop; outros incluem o Los Campesinos! bancando passagens para pessoas fazerem campanha pelo voto no Partido Trabalhista nas eleições britânicas de 2019 e as oficinas de Rachel Aggs sobre descolonização da guitarra.
Grande parte do conteúdo das cartas de Clare Wadd do início dos anos 1990 permanece relevante hoje – inclusive sua observação na carta à NME sobre como, na música, “independente costumava significar uma atitude”. Com a moda twee voltando à tona, uma subcultura outrora radical tem a chance de recuperar o legado de seus antecessores – e de construir um movimento pop socialista na base do faça-você-mesmo que seja adequado às lutas deste século.
Sobre os autores
é um comentarista cultural que vive entre Londres e Manchester.



























